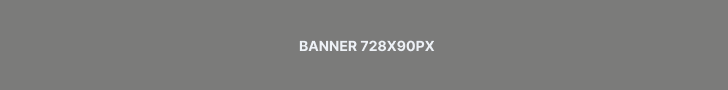E se eu não fosse jornalista?
Crônica

Há alguns dias, comemoramos aqui no Brasil o Dia do Jornalista, em 7 de abril. Sempre fui fã de datas comemorativas, e meu trabalho como assessor de imprensa só reforçou esse gosto — gosto desse pretexto simbólico pra parar, refletir e, quem sabe, reorganizar algo aqui dentro. Este ano, em especial, a data me trouxe mais do que um simples pretexto: me trouxe uma pergunta que não saiu da minha cabeça desde então. Talvez tenha sido o momento, o cansaço ou essa mania que eu tenho de revisitar o passado em datas marcadas. Seja como for, a pergunta ficou: e se eu não fosse jornalista?
Na verdade, foi o cinema que reacendeu essa dúvida. Eu estava escrevendo um texto sobre “Guerra Civil”, do Alex Garland — um filme que, à primeira vista, fala de um país em ruínas, polarizado e distópico, mas que, no fundo, diz muito sobre nós. Sobre os jornalistas. Sobre o jeito como vamos sendo engolidos pela profissão até deixarmos de perceber onde termina o trabalho e onde começa quem a gente é.
Três cenas, em especial, ficaram marcadas em mim. A primeira mostra Lee Smith, a fotojornalista vivida por Kirsten Dunst, atravessando o caos. Ela corre da destruição, mas mantém a câmera firme nas mãos. O medo está ali, mas logo dá lugar à urgência do trabalho. O instinto profissional se sobrepõe ao instinto de sobrevivência.
Na segunda, Jessie, a jovem fotojornalista interpretada por Cailee Spaeny, vê a colega cair morta ao seu lado. O choque é visível, a dor humana é escancarada. Mas ela não larga a câmera. Ela fotografa a morte. E segue. Como se não tivesse escolha. Como se o compromisso com a história fosse mais forte do que o luto, mais urgente do que o próprio medo.
E, por fim, a terceira cena acontece no final do filme: o presidente dos Estados Unidos está prestes a ser executado. O jornalista Joel, vivido por Wagner Moura, interrompe o momento e pergunta: “Alguma declaração?”. E o presidente, interpretado por Nick Offerman, com os olhos fixos na morte, implora: “Não deixem que me matem.”
Essa última cena, especialmente, faz a gente refletir sobre a relação entre a imprensa e a realidade. O impulso de continuar, de perguntar mesmo quando tudo está à beira do fim, nos coloca diante de um dilema entre o dever jornalístico e o respeito pela humanidade na sua forma mais vulnerável.
Ao assistir a essas cenas, senti um desconforto estranho. Uma sensação de reconhecimento. Não que eu seja correspondente de guerra, mas, assim como eles, quantas vezes segui em frente — escrevendo, editando, ligando — mesmo quando tudo dentro de mim pedia uma pausa? Quantas vezes confundi dever com silêncio, compromisso com exaustão? Como se parar fosse trair uma promessa protocolar com o mundo. Um mundo que, muitas vezes, nos consome, nos suga, nos controla, nos empurra ao limite — e, sim, às vezes até nos odeia.
Nunca sonhei em ser jornalista. Era uma ideia distante, quase um devaneio. Quando era criança, dizia que queria ser cientista — mais especificamente zoólogo, por causa dos documentários do Sir David Attenborough. Depois, quis ser arqueólogo, por causa do Indiana Jones. Mais tarde, antropólogo, como Claude Lévi-Strauss. Acabei indo parar na Geografia, movido por uma paixão que nasceu na preparação pro vestibular, quando um professor — o querido Gabriel Burani, daqueles que nos viram por dentro — me mostrou que o mundo podia ser lido, decifrado, questionado. A Geografia me ensinou a observar, a desconfiar, a perguntar. Até hoje, acho que tudo começou ali.
Na UFAL, os amigos brincavam: “Van, você tem jeito pra contar histórias — ainda vai acabar no jornalismo.” E eu, sempre cético, só ria. Não me via nesse lugar. Soava técnico demais, pragmático demais, e — talvez o que mais me afastava — centrado demais no próprio umbigo. Mas isso já é assunto pra outra crônica. Curiosamente, era nos bastidores desse mesmo território que eu me sentia mais vivo: nos projetos de extensão, nas conversas virando entrevistas, nos relatórios que os professores pediam e que, pra mim, eram quase retratos — com o rigor de um geógrafo e a ternura de quem escreve sobre gente.
Não foi uma decisão brusca, nem um rompimento. A travessia entre a Geografia e o Jornalismo aconteceu quase sem eu perceber — um passo aqui, outro ali, movido por uma inquietação que crescia aos poucos. Foi preciso escutar — e me escutar. Perceber que aquele impulso de escrever, de conectar ideias, de contar o mundo, não era um capricho, mas uma parte real de mim. E que não havia traição nenhuma em seguir por esse caminho.
A verdade é que essa travessia esteve longe de ser simples. Teve o empurrão da família, os tropeços da vida e uma teimosia antiga que sempre me acompanhou. Mas, do outro lado, havia algo me esperando. Algo que, pela primeira vez em muito tempo, fez sentido.
O lado cômico — ou irônico, talvez — é que, por um tempo, ainda tentei conciliar os dois cursos. Mas chegou o momento de escolher. E eu escolhi. Não sem hesitar, mas com o coração apontando a direção.
Hoje, vejo que continuo sendo geógrafo. Continuo observando os espaços, as pessoas, os deslocamentos. Só mudei as ferramentas. Em vez de mapas, uso blocos de anotações. Em vez de gráficos, frases sublinhadas. Em vez de SIGs, entrevistas. E, no fim, o que faço continua sendo cartografia — emocional, política, social.
Mas nem tudo é poesia. A profissão cansa. Tem dias em que parece que não há mais nada a dizer. Em que as notícias nos esmagam, os prazos nos sufocam, os comentários nos desgastam. Tem dias em que eu duvido de mim. Em que me pergunto se estou fazendo alguma diferença ou só repetindo fórmulas. Em que me pergunto se ainda me reconheço nesse ofício.
E, ainda assim, eu fico. Fico porque tem momentos que compensam tudo: quando alguém me diz “obrigado por ter escrito isso”, ou quando entrevisto alguém que nunca teve voz e, de repente, se sente ouvido. Fico porque escrever, pra mim, é uma forma de respirar. É onde tento organizar o que não entendo, dar forma ao indizível. É o meu jeito de habitar o mundo.
Com o tempo, percebi que existe algo profundamente geográfico na escuta. Escutar é mapear o outro. É reconhecer o território das emoções, das memórias, das feridas. Escutar é um ato político. E é ali, nesse instante de atenção absoluta, que me sinto inteiro. Que entendo por que continuo aqui.
Talvez o jornalismo, pra mim, seja isso: um lugar de pertencimento. Um jeito de não desistir do mundo. Um compromisso com a escuta, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. E talvez, só talvez, essa seja a maior missão de um jornalista hoje: encontrar humanidade no ruído. E escrevê-la.
Seis anos depois, ainda não tenho todas as respostas. Mas aprendi a aceitar a dúvida como parte do caminho. E, às vezes, isso basta.