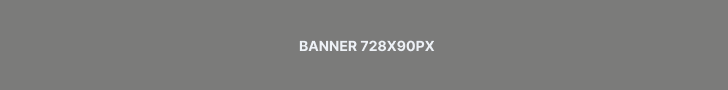Até alguns meses, a possibilidade de que um presidente dos EUA entrasse triunfante em Havana se enquadrava na categoria dos piores pesadelos do castrismo. O sobrenome Castro provocava em Washington e Miami – sede do exílio – urticária e imaginar um presidente visitando um Castro no Palácio da Revolução em Havana parecia pura ficção política.
A visita, de 48 horas, culmina um ano em que Obama e Castro – um afro-americano nascido em 1961, quando a revolução cubana tinha dois anos, e um velho revolucionário e militar nascido em 1931 – terminaram com mais de meio século de guerra fria. Em pouco mais de um ano, os Estados Unidos e Cuba reabriram suas embaixadas e Washington relaxou as condições para fazer negócios e viagens a Cuba. O degelo acelerou tanto que o que parecia inimaginável há um ano e meio, como é ver um presidente norte-americano passeando por Havana, parece natural. A anomalia parece hoje a obstinação durante 55 anos em uma política de confronto que mantiveram dez presidentes sem conseguir desalojar os Castro do poder.
A visita inclui, além do discurso e uma reunião na segunda-feira com Raúl Castro (não com seu irmão Fidel), encontros com empresários e dissidentes, e assistir a um jogo de beisebol. Ele está acompanhado por toda a família: a primeira-dama, Michelle, as filhas Sasha e Malia, e sua sogra, Marian Robinson.
No aeroporto, foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, entre outros altos funcionários e diplomatas. Após uma reunião com funcionários da embaixada dos EUA em Havana, Obama visitou a pé Havana Velha, a região antiga da capital. O historiador local Eusebio Leal serviu de guia. Em seguida, deve se reunir com o cardeal Jaime Ortega, chave nas negociações secretas que levaram à normalização das relações.
“Para os cubanos, a visita do presidente é uma validação da revolução”, diz Peter Kornbluh, coautor de Diplomacia encubierta con Cuba (Diplomacia secreta com Cuba), uma história das negociações secretas entre Washington e Havana. Em sua última edição, o livro inclui o relato mais detalhado das conversações que levaram ao anúncio, em 17 de dezembro de 2014, por parte de Obama e Castro, do restabelecimento das relações.
“O ponto de vista dos Estados Unidos” continua Kornbluh, “é o seguinte: vamos criar pontes culturais, econômicas, políticas entre as duas sociedades. E por estas pontes vai atravessar a enorme influência do sistema norte-americano”.
Aplicada a Cuba, a doutrina Obama na política externa diz que a mudança política – a democracia, o pluripartidarismo, a liberdade de imprensa – não serão impostos de fora, muito menos pela força. Obama não quer a mudança de regime: nem aqui nem no Irã. A ideia é que, ao melhorar a vida dos cubanos comuns, o país acabará se transformando. Quanto mais turistas e estudantes visitarem a ilha, e quanto mais negociem entre si os cubanos e os norte-americanos, mais próximos estarão da democratização.
Na terça-feira, no discurso central da visita, Obama deixará claro que corresponde ao povo cubano – não aos EUA, nem a mais ninguém – decidir seu futuro. Mas não deixará de dar sua opinião. “Ao povo cubano, como aos povos de todo o mundo, as coisas vão melhor com uma verdadeira democracia, na qual sejam livres para escolher seus líderes, expressar suas ideias e praticar sua fé”, adiantou há alguns dias em Washington Susan Rice, conselheira de segurança nacional da Casa Branca. “Os Estados Unidos continuarão promovendo os direitos humanos para todas as pessoas, em todos os lugares, inclusive Cuba”.
Em dezembro, Obama disse que não fazia sentido visitar Cuba se não havia progressos palpáveis em matéria de direitos humanos. Esses avanços não são visíveis e, no entanto, Obama viaja para a ilha.
“Obviamente, ele mudou de critério”, diz o professor Jorge Domínguez, de Harvard. “Em vez de dizer: ‘Vou esperar para que sejam palpáveis os avanços em direitos humanos’, minha impressão é que ele disse para si mesmo: ‘Eu tenho pouco tempo. E se quero que aconteçam mudanças em Cuba, tenho que ir ver Raúl Castro e dizer: Ei, o que está acontecendo? Sozinho não posso fazer isso’”. Quando faltam dez meses para que um novo presidente o substitua na Casa Branca, um presidente que poderia desfazer o progresso do ano passado, Obama quer que o degelo seja irreversível.
“Um presidente republicano poderia recuar se quisesse”, diz Elliott Abrams, veterano da administração Bush e um dos líderes do movimento neoconservador. “Minha principal objeção à política de Obama é que, ao contrário do caso da Birmânia, onde fizemos exigências antes de retirar as sanções, demos tudo a Castro em troca de nada. Os direitos humanos em Cuba estão piores hoje do que há um ano”.
Abrams acha que estão erradas as analogias da viagem de Obama a Cuba com a do presidente Richard Nixon à China em 1972 ou de Bill Clinton ao Vietnã em 2000. “No Vietnã, tivemos uma guerra com 50.000 mortos. A China, no final das contas, é uma grande potência. Cuba é pequena, com uma economia pequena. Acho que, para Obama, trata-se sobretudo de uma viagem de vaidade: ele vai se reunir com Castro e a imprensa vai adorar, mas os efeitos serão muito reduzidos”.