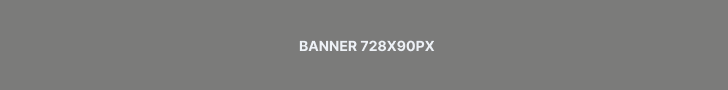Brasil
‘Assim como Maria Clara, fui vítima de violência sexual, aos 9 anos’, conta a líder karipuna Luene Anicá dos Santos,da mesma etnia de indígena morta
Jovem de 25 anos revive drama pessoal após estupro de adolescente, que não sobreviveu; ela vive no território Uaçá, no Amapá, e denuncia que abusos contra mulheres indígenas são recorrentes

“Estudava numa escola indígena. Lá, um professor branco corrigia os trabalhos de toda a turma e liberava todos os alunos. Eu ficava por último, sozinha com ele na sala. Só depois entendi que era uma estratégia. Tinha 9 anos à época. Durante meses, ele me molestou, me violentou. Sempre do mesmo jeito. Quando tentava sair antes, dizia que eu precisava refazer a atividade. Sabia que não era por isso. Era desesperador. Aconteceu comigo o mesmo que com a Maria Clara (indígena karipuna, de 15 anos, estuprada e afogada numa área de pântano no Amapá, em setembro). Somos da mesma etnia.
Ele me ameaçava. Era assustador porque, se eu falasse, acreditava que poderia ser até repreendida pela situação. E o professor ainda dizia que faria pior. Estar no ambiente escolar diariamente era relembrar o tempo todo o que acontecia. Outra coisa que ele dizia era que os meus pais nunca iriam acreditar em mim porque eu era criança. Também ouvia ele dizer que sairia ileso porque eu não tinha prova nenhuma. Assim como Maria Clara, fui vítima de violência sexual na idade em que estava mais vulnerável.
Hoje estudo no curso de licenciatura Intercultural Indígena na Universidade Federal do Amapá. Fica no Oiapoque, uma cidade pequena, na divisa com a Guiana Francesa, com 77% da população indígena. É uma região de garimpo, prostituição e tráfico de pessoas (o Amapá tem a terceira maior taxa de estupro do país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública). Desde o abuso, pouca coisa mudou.
O acesso à escola sempre foi muito difícil, mas tive suporte familiar. As famílias daqui têm como base de subsistência a caça, a pesca, a farinha de mandioca e outros produtos da roça. Apesar de tudo, consegui terminar os estudos e hoje sou a primeira geração da família a ir para a universidade.
A trajetória, entretanto, foi muito difícil quando os abusos tiveram início. Antes, era uma criança muito alegre, que brincava, adorava comer as comidas da minha mamãe. Aos poucos, comecei um entristecimento, não queria mais comer. Meu consolo era ficar numa rede com meu irmão bebezinho, como se ele fosse me proteger de tudo. Minha mãe começou a prestar atenção no meu comportamento.
Na nossa cultura, as mulheres têm cabelo longo e eu adorava fazer tranças. Um dia, voltei da escola chorando, completamente bagunçada, porque tinha tentado fugir e cortei o dedo desse professor com um canivete que estava em cima da mesa. Minha mãe me viu daquele jeito e me colocou para conversar. Ali, enfim, decidi contar. Minha mãe sempre foi muito acolhedora, ela era uma amiga em quem a gente podia confiar. Por isso tive confiança de que iria acreditar em mim.
Mãe denunciou
No mesmo dia que contei, o professor foi embora da aldeia. Minha mãe não sabia ler nem escrever, mas sabia que precisava denunciar. Passamos por todos os trâmites, fiz os exames necessários para comprovar a violência. Mas não tivemos a assistência devida. Fui colocada em frente ao juiz, numa sala cheia de homens, para dar meu depoimento. Quando pedimos o exame para comprovar a violência, o laudo tinha desaparecido da delegacia. Minha mãe não tinha nenhuma cópia e o processo não avançou.
As pessoas diziam que eu estava mentindo, inventando. O professor era muito próximo da minha família, padrinho do meu irmão. Naquela época, meu pai acabou me culpando e ficamos muito tempo afastados. Eu não sabia o que era o abraço do meu pai, o que era sorrir para ele. Isso era muito doloroso. Na adolescência, tive depressão. Fiquei meses sem falar, sem me relacionar. Minha relação familiar ficou tensa.
Até a minha mãe, que havia me apoiado, achou melhor eu morar em outra aldeia, com uma irmã e tios, para continuar estudando e para amenizar o clima em casa. Tinha de me superar, me fazer forte no ambiente escolar, porque tinha professores homens, o que já era impossível ser normalizado por mim. Até hoje, ele (o abusador) vive solto. E não apenas isso. Eu já tive inclusive de conviver com ele muitas vezes em outros espaços. Quando me mudei para onde moro, ele era o professor da aldeia. Todo dia passava na frente da sala dele para chegar na minha. Ele ficava em pé na porta me esperando. Muitas vezes, tinha gatilhos de memórias do que havia ocorrido. Ele continuava a tentar me intimidar.
Depois que passei na faculdade, ele tentou se aproximar de mim um dia em que sai para fazer compras. Corri, peguei um táxi e fui para casa. Entrar para o movimento indígena me tirou da depressão. Precisava de um propósito, e esse propósito foi lutar pelos direitos do meu povo. Me tornei liderança, voltei a falar com meu pai, abraçar o meu pai. Foi um processo de construção de confiança, de conversar sobre o que tinha acontecido, de colocar para fora. Toda vez que falo sobre essa violência, fico mais leve.
Nós, como mulheres, sempre sofremos assédio quando estamos num lugar de tomada de decisão onde homens poderiam estar, mas que ocupamos pela nossa capacidade. A sociedade é muito machista, e a indígena não é diferente.
Quando soube da morte da Maria Clara, estava em Brasília, participando da Marcha das Mulheres Indígenas. Foi algo muito pessoal, me senti na obrigação de fazer algo, dar visibilidade. O caso dela teve esse significado para mim, o de fazer justiça. Algo que não tive quando fui violentada.
Fiquei três noites sem conseguir dormir. Mas tive de ser forte. Ao mesmo tempo que tinha pesadelos, pensava que precisava não só ajudar a família dela, mas também conscientizar as pessoas sobre esse tipo de violência. Mobilizei minhas redes para conseguir apoio financeiro e ajudei a organizar um ato cobrando justiça. Só não consegui ir para o enterro, porque estava num desgaste emocional muito grande.
A Maria Clara é um dos casos que conseguimos dar visibilidade. Mas essas violências são recorrentes e não vemos atitudes para pôr um fim a isso. Não temos rede de acolhimento, uma delegacia da mulher, uma assistência à criança e adolescente e fiscalizações adequadas. (Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no último ano 375 indígenas foram estuprados no Brasil).”
*Em depoimento à repórter Aline Ribeiro, de São Paulo
Mais lidas
-
1PALMEIRA DOS ÍNDIOS
Câmara de vereadores cobra Águas do Sertão por desabastecimento e debate educação, orçamento e políticas sociais
-
2MACEIÓ
Cooperativa parceira apresenta plano para melhorar coleta seletiva em Maceió
-
3COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL
Secom centraliza comunicação em perfil do governo Lula no X após chegada de Sidônio Palmeira
-
4TÊNIS
Alcaraz vence compatriota Fokina por 2 a 0 e avança à final do Masters 1000 de Montecarlo
-
5CIDADANIA
Vice-governador Ronaldo Lessa convida para ato político em defesa da democracia com ampla união de partidos em Alagoas