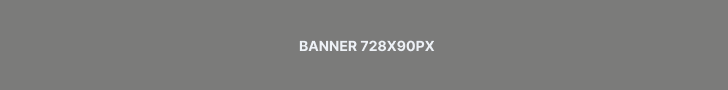Internacional
'Para ganhar compaixão, os palestinos devem primeiro provar sua inocência'
Hala Alyan, escritora americana de origem palestina, debate a diferença na comoção quando as vítimas são palestinas

Voltei para os Estados Unidos duas vezes desde meu nascimento. Uma vez, quando criança, após a invasão do Kuwait pelo Iraque. Depois, novamente para a pós-graduação. Tive o privilégio de passar a juventude — adolescência e juventude adulta — em países onde ser palestino era bastante comum. A identidade podia ser pesada, mas não era contestada. Não demorei para entender a política de respeito que envolve ser um adulto palestino. Aprendi rápido.
Israel X Hamas: acompanhe as últimas informações desdobramentos do conflito no Oriente Médio
Crianças e jovens: número de menores mortos em Gaza desde o início da guerra é maior que a soma dos últimos 23 anos
A tarefa do palestino é ser aceito ou condenado. A função do palestino, como vimos nas duas últimas semanas, é buscar empatia e compaixão. Provar que merecemos isso. Fazer por merecer.
Nas últimas duas semanas, vi ativistas, advogados e professores palestinos serem provocados e interrompidos no ar, quando não silenciados por completo. Eles estão sendo obrigados a cantar para ganhar tempo no ar e uma cobertura justa. Eles estão implorando para que os repórteres façam as tarefas mais básicas de seu trabalho. Ao mesmo tempo, os palestinos que fogem das bombas foram identificados erroneamente. Mesmo quando estão sendo atacados, eles precisam se fantasiar de outro povo para despertar humanidade. Até mesmo na morte, eles não podem descansar — os palestinos estão sendo enterrados em valas comuns ou em valas antigas escavadas para abrir espaço, e ainda assim não há suficiente.
Como se isso não bastasse, o massacre palestino é frequentemente apresentado de forma desconectada da História, sem ligação com a realidade: não é atribuído às armas e aos mísseis reais, à ocupação, à política. Para ganhar compaixão por seus mortos, os palestinos devem primeiro provar sua inocência.
O verdadeiro problema com a condenação é o teor silencioso e astuto das perguntas que a acompanham. Presume-se que os palestinos sejam violentos — e merecedores de violência — até que se prove o contrário. Presume-se que suas mortes sejam defensáveis até que se prove o contrário. Qual é a palavra de um palestino contra um maquinário que investiga a si mesmo, que se absolve dos crimes pelos quais é acusado? Qual é a palavra de um palestino contra um governo cujos representantes se referiram aos palestinos como "animais humanos" e "bestas selvagens"? Quando um homem bem vestido pode dizer descaradamente e sem hesitação que não existe um povo palestino?
Essa é, obviamente, uma estratégia extremamente eficaz. Um massacre não é um massacre se aqueles que estão sendo massacrados são culpados, se eles foram silenciosa e efetivamente desumanizados — na mídia e por meio de políticas — durante anos. Se ninguém é um civil, ninguém pode ser uma vítima.
Em 2017, publiquei um romance sobre uma família palestina. Ele saiu por uma editora respeitável, recebeu muita atenção da imprensa e fiz uma turnê de divulgação do livro. Discursei em painéis, em clubes do livro. Respondi a perguntas após leituras. Havia um refrão que sempre aparecia. As pessoas sempre comentavam sobre o quanto a história era humana. Você humanizou o conflito. Esta é uma história humana.
É claro que a literatura e as artes desempenham um papel fundamental no fornecimento de contexto, expandindo nossa empatia e nos dando vislumbres de outros mundos. Mas toda vez que me diziam que eu havia humanizado os palestinos, eu tinha que reprimir a pergunta que isso me fazia: o que eles eram antes?
Há algumas semanas, em um espaço profissional, alguém chamou os palestinos pelo nome e falou sobre as sete décadas de angústia deles. Sentei-me entre dezenas de colegas de trabalho e percebi que meu lábio estava tremendo. Eu estava chorando antes de entender o que estava acontecendo. Saí da sala e demorou 10 minutos para que eu parasse de soluçar. Não entendi imediatamente minha reação.
Ao longo dos anos, tive que enfrentar reuniões, salas de aula e outros espaços institucionais onde os palestinos não eram mencionados ou eram chamados apenas de terroristas. Cheguei à idade profissional em um país onde as pessoas perdiam todos os tipos de coisas por falar da Palestina: posição social, estabilidade na universidade, cargos de jornalista. Mas, no final, não fiquei assim por causa do silêncio ou do apagamento, mas pela empatia. Pelo simples fato de alguém nomear meu povo. Pelo reconhecimento crescente de que a libertação está conectada. Por espaços de solidariedade palestino-judaica. Pelo que se tornou controverso: o simples fato de falar em voz alta sobre o sofrimento palestino.
Hoje em dia, todos estão tentando escrever sobre as crianças. Um número incompreensível de crianças mortas e contando. Ficamos acordados à noite, vasculhando nossos telefones, tentando encontrar a metáfora, o vídeo, a fotografia para provar que uma criança é uma criança. É uma tarefa insuportável. Perguntamos: será que esta será a imagem que finalmente conseguirá? Esta meia-criança em um telhado? Este vídeo, republicado pela al-Jazeera, de uma menina inconsolável que parece reconhecer o corpo de sua mãe entre os mortos, gritando: "É ela, é ela. Eu juro que é ela. Eu a conheço pelo seu cabelo"?
Acredite em uma escritora: não há nada como o tédio de tentar inventar analogias. Há algo de humilhante em tentar ganhar solidariedade. Continuo vendo infográficos que tentam desesperadamente atrair o público. Imagine a maior parte da população de Manhattan sendo instruída a evacuar em 24 horas. Imagine o presidente de [ ] indo à NBC e dizendo que todas as [ ] pessoas são [ ]. Veja! Aqui está uma faixa à beira do Mar Mediterrâneo. Essa é Gaza. Ela tem aproximadamente o mesmo tamanho da Filadélfia. Ou multiplique toda a população de Las Vegas por três.
Esse é um trabalho desmoralizante, ter de falar constantemente no vernáculo das tragédias e atrocidades, dizer: vejam, vejam. Lembram-se daquele outro sofrimento que acabou sendo considerado inaceitável? Deixe-me compará-lo a este. Deixe-me mostrar-lhe a proporção. Deixe-me ganhar sua indignação. Na falta disso, deixe-me ganhar sua memória. Por favor.
Não hesito nem por um segundo em condenar a morte de qualquer criança, qualquer massacre de civis. É o pedido mais fácil do mundo. E não é apesar disso, mas por causa disso que eu digo: condenem a violação de corpos. Por todos os meios, condenem. Condenem o assassinato. Condenem a violência, a prisão, todas as formas de opressão. Mas se seu choque e sua angústia vierem apenas com a visão de certos corpos violados? Se você se manifesta, mas não quando corpos palestinos são cercados e assassinados, sequestrados e aprisionados? Então vale a pena se perguntar qual violência é aceitável para você — mesmo que silenciosamente, mesmo que subconscientemente — e qual não é.
Identifique a discrepância e assuma-a. Se você não puder ser equitativo, seja honesto.
Não há nada de complicado em pedir liberdade. Os palestinos merecem direitos iguais, acesso igual a recursos, acesso igual a eleições justas e assim por diante. Se isso o deixa desconfortável, então você deve se perguntar por quê.
Aqui está a verdade sobre os palestinos diaspóricos: eles não são magicamente diaspóricos. Sua diáspora é o resultado direto da desapropriação, muitas vezes violenta, intencional e ilegal. Um dia uma casa é sua; um dia não é mais. Um dia um bairro é seu; um dia não é. Um dia um território é seu; um dia não é. Esse mesmo tipo de desapropriação está fundamentado na mentalidade e cumplicidade internacional que está ocorrendo em Gaza.
Sou poeta, escritora e psicóloga. Estou profundamente familiarizada com a importância da linguagem. Já me angustiei com um travessão. Já passei tardes murmurando sobre a adequação de um verbo. Presto atenção ao idioma, ao meu e ao dos outros. Ser palestino nos EUA — em muitos países — é um exercício entorpecente de avaliar onde estão os bolsões de segurança, de descobrir quais amigos, colegas de trabalho ou conhecidos serão aliados, quais ficarão em silêncio. Quem falará.
Aqui está outra coisa que sei como escritora e psicóloga: é importante onde você começa uma narrativa. No trabalho com vícios, isso é chamado de "tocar a fita". Diáspora ou não, o fato de ser palestino é disruptivo na sua essência: mexe com uma fita curada e modificada. Nós existimos, e nossa existência representa uma afronta existencial. Enquanto existirmos, desafiaremos várias falsidades, entre as quais a de que, para alguns, nunca existimos. Que décadas atrás, um país nasceu na deliciosa e brilhante extensão do nada — um direito de nascença, algo devido. Nossa própria existência desafia uma narrativa formidável e militarizada.
Mas os dias da exceção da Palestina estão contados. A Palestina está se transformando cada vez mais no teste decisivo para a verdadeira prática libertária.
Enquanto isso, os palestinos continuam a ser considerados, paradoxalmente, tanto terroristas quanto invisíveis; tanto pessoas que nunca existiram, quanto pessoas que não podem voltar.
Imagine ser uma praga, um obstáculo. Ou imagine ser tão poderoso.
*Hala Alyan é uma escritora, psicóloga clínica e professora na cidade de Nova York de nacionalidade americana-palestina. É autora de romances e de várias coleções de poesia.
Mais lidas
-
1FUTEBOL
Neymar confirma seu retorno ao Santos após 12 anos: 'Parece que estou voltando no tempo'
-
2
Yago Dora e Gabriel Medina avançam em Teahupoo e continuam na briga por vaga no Finals
-
3CÂMARA
Projeto prevê redução do IPVA de automóveis acidentados recuperáveis
-
4ACUSAÇÃO
Vice-presidente do PT acusa Anielle de envolvimento com funcionário fantasma
-
5FUTEBOL
Dono de 25% do United critica gestão passada do Manchester United e cita Antony e Casemiro